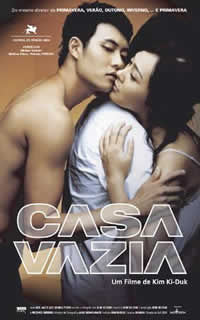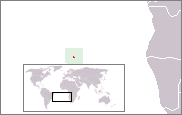Há uns dez anos, eu me correspondia (em inglês) com uma cientista russa, a Svetlana. Tínhamos muita curiosidade em relação ao país do outro, mas, inegavelmente, eu sabia mais sobre a terra dela que ela da minha.
Certa vez ela me escreveu dizendo que estava feliz, curtindo um dia de verão “com agradáveis 15 graus”. Eu lhe respondi que também estava curtindo um belo dia de inverno com “agradáveis” 35 graus.
Ela me retornou, perguntando: “35 graus positivos????”
A Svetlana nunca saiu da Rússia. Ela não tinha a menor idéia do que seja sentir uma temperatura de 35 graus. E imagino que os seus olhinhos azuis tenham se arregalado quando leu que aqui no Rio de Janeiro estávamos no inverno com aquela temperatura.
“Se no inverno faz 35 graus quanto faz no verão?” – ela me perguntou.
A lógica moscovita: no inverno de lá se atinge 20 graus negativos fácil, fácil, e no verão sobe para 15 ou 20 graus positivos. Logo, se em nossa estação fria alcançamos 35 graus, na quente talvez ultrapassássemos impossíveis 50 graus!
Esclareci que não chega a tanto. Na verdade, no Rio de Janeiro não temos estações definidas. Temos uma temporada quente e outra mais quente.
Ontem, passei diante de um termômetro de rua e estava marcando “35 graus” (em Copacabana chegou a 45, vide foto). Lembrei da Svetlana, com quem infelizmente perdi contato. Ela deve estar curtindo o seu verão de 15 graus e nós aqui, no nosso rigorosíssimo inverno, empapuçando até as calças de suor.
Certa vez ela me escreveu dizendo que estava feliz, curtindo um dia de verão “com agradáveis 15 graus”. Eu lhe respondi que também estava curtindo um belo dia de inverno com “agradáveis” 35 graus.
Ela me retornou, perguntando: “35 graus positivos????”
A Svetlana nunca saiu da Rússia. Ela não tinha a menor idéia do que seja sentir uma temperatura de 35 graus. E imagino que os seus olhinhos azuis tenham se arregalado quando leu que aqui no Rio de Janeiro estávamos no inverno com aquela temperatura.
“Se no inverno faz 35 graus quanto faz no verão?” – ela me perguntou.
A lógica moscovita: no inverno de lá se atinge 20 graus negativos fácil, fácil, e no verão sobe para 15 ou 20 graus positivos. Logo, se em nossa estação fria alcançamos 35 graus, na quente talvez ultrapassássemos impossíveis 50 graus!
Esclareci que não chega a tanto. Na verdade, no Rio de Janeiro não temos estações definidas. Temos uma temporada quente e outra mais quente.
Ontem, passei diante de um termômetro de rua e estava marcando “35 graus” (em Copacabana chegou a 45, vide foto). Lembrei da Svetlana, com quem infelizmente perdi contato. Ela deve estar curtindo o seu verão de 15 graus e nós aqui, no nosso rigorosíssimo inverno, empapuçando até as calças de suor.
M.S.